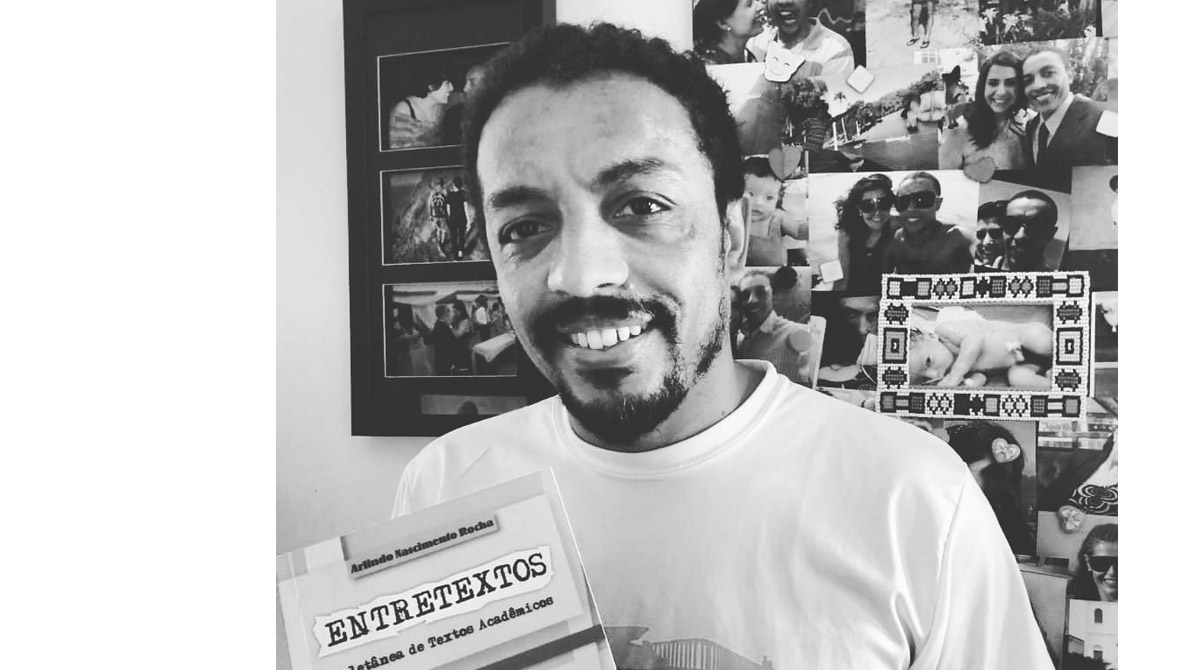Arlindo Rocha Nascimento
“Organizar conhecimentos de modos que estes possam dialogar entre si e fazer parte da vida humana, como se formassem uma colcha de retalhes costurados com harmonia e perfeita combinação de cores”. [Edgar Morin].
Nos últimos tempos, tenho refletido e escrito sobre um tema que tem ocupado grande parte das minhas horas de estudo e reflexão, e faço-o com genuíno entusiasmo. Vivemos numa sociedade em que o trivial, o efémero e o superficial frequentemente se tornam o centro das atenções. Por isso, quando surge uma ideia original, ela age como uma espécie de epifania, uma profecia que ganha forma concreta e desperta o pensamento para o que realmente pode transformar a nossa realidade.
Recordo aqui a célebre afirmação do filósofo francês Blaise Pascal, para quem “o pensamento faz a grandeza do homem”. É justamente nessa grandeza do pensar que reside a capacidade de sonhar, questionar, propor e construir, transformando o ato de pensar em força criadora do mundo. E, em sintonia com Edgar Morin, citado na epígrafe deste artigo, é importante salientar que compreender que organizar conhecimentos de modo que estes possam dialogar entre si e fazer parte da vida humana, como se formassem uma colcha de retalhos costurada com harmonia e perfeita combinação de cores, é reconhecer que o conhecimento só adquire sentido quando se articula à existência. Assim, pensar torna-se um exercício de (re)ligação, entre saberes, experiências e sensibilidades, e o educar converte-se num ato de costurar o mundo com consciência, beleza e humanidade.
É precisamente isso que venho realizando desde um insight surgido numa conversa entre amigos, momento que se revelou o ponto de partida para um artigo inicial, o qual acabou por se tornar o estopim de uma série de artigos que tenho vindo a desenvolver e que pretendo continuar a aprofundar.
Inspirado na citação de Morin, procuro organizar os conhecimentos de forma interconectada, permitindo que diferentes saberes conversem entre si e revelem a complexidade que caracteriza o humano e a educação. Esse movimento de articulação e síntese visa conferir profundidade teórica e rigor epistemológico à proposta que venho construindo, ou seja, a Pedagogia da Mutabilidade (PDM), uma iniciativa teórica concebida para pensar, sentir e agir num mundo em constante transformação.
A PDM afirma-se como uma proposta educativa inovadora, construída a partir da crítica aos modelos tradicionais de ensino e da urgência de uma educação capaz de preparar os alunos para a incerteza e a mudança, conforme foi visto no artigo anterior em que Morin, defende que “Educar é preparar para enfrentar a incerteza e a mudança, e não apenas transmitir certezas estabelecidas.”
Esta nova visão pedagógica, como foi visto, teve origem a partir do conceito de Governança da Mutabilidade aplicado à gestão pública e transposto para o campo educacional, afirmando que a estabilidade absoluta é ilusória e que a vitalidade das instituições depende da capacidade de se adaptarem de forma ética, reflexiva e contínua. Assim, a PDM apresenta-se como um modelo aberto e evolutivo de aprendizagem, no qual o pensar e o agir se articulam num movimento permanente de (re)construção do conhecimento e da experiência do “aprender a aprender”, complementando os quatro pilares da educação, segundo a UNESCO, uma proposta de Jacques Delors, para quem, o ato de aprender a aprender constitui a competência central da aprendizagem ao longo da vida.
A PDM não surgiu por acaso. Ela é o fruto de um conjunto de experiências e vivências académicas e pedagógicas como aluno e professor que foram sendo sedimentados ao longo do tempo. O seu aparecimento não pretende desmerecer o que foi construído até então, pois todo o arcabouço conceitual acumulado ao longo das últimas décadas permanece incontornável. O objetivo não é negar o passado nem propor uma ruptura metodológica ou paradigmática, mas oferecer mais um instrumento que os professores possam utilizar para aprimorar a sua prática pedagógica. Por isso, a PDM procura beber de diversas fontes, extraindo delas lições e aprendizagens que lhe conferem consistência e fundamentação teórica.
Do ponto de vista filosófico, a proposta ancora-se na tradição ética da coerência entre pensamento e ação, presente em Aristóteles, Kant e Hannah Arendt, para quem a integridade é inseparável do exercício do juízo crítico. Educar, portanto, é formar sujeitos capazes de agir com responsabilidade diante da mudança, transformando a incerteza em oportunidade de crescimento pessoal e coletivo.
No contexto da PDM, a Inteligência Artificial (IA) não é concebida como mera ferramenta tecnológica, mas como mediadora cognitiva e catalisadora de novos modos de aprender e ensinar, em consonância com as ideias defendidas no artigo “A educação em transformação: a era da Inteligência Artificial (IA)”. Ela, ao permitir a personalização do ensino e a adaptação dos conteúdos ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, concretiza o princípio central da mutabilidade, ou seja, a flexibilidade estruturada e a revisão constante dos processos educativos. Mais do que automatizar tarefas, a IA expande a capacidade humana de pensar criticamente, resolver problemas e construir conhecimento de forma autónoma e colaborativa.
Assim, a sua utilização pedagógica favorece a aprendizagem adaptativa, transformando a sala de aula num espaço dinâmico de investigação e criação. Ao integrar a inteligência natural com a IA num mesmo ecossistema educativo, a PDM afirma-se como uma experiência entre o humano e o digital, sustentada na ética, na reflexão crítica e na permanente reconstrução do saber, conferindo uma nova dimensão a este modelo pedagógico.
Aos que vêm na IA um perigo iminente, reitera-se que quando usado com sabedoria, ela não deve ser vista como uma ameaça, mas como extensão da inteligência humana, um recurso para personalizar o ensino, adaptar ritmos de aprendizagem e apoiar o professor na mediação de percursos formativos justos e eficazes. Na PDM, a IA é entendida como parceira cognitiva, promotora de autonomia e de pensamento crítico, e não como substituta do educador.
No campo pedagógico, a PDM dialoga com o Construtivismo de Jean Piaget e com o Construcionismo de Seymour Papert. Para Piaget, o conhecimento é construído ativamente pelo sujeito através de processos de assimilação e acomodação que permitem o equilíbrio entre o que se sabe e o que se descobre. Essa visão coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, reconhecendo-o como agente ativo na elaboração do seu próprio conhecimento.
Papert, por sua vez, amplia esta concepção ao afirmar que a aprendizagem se consolida quando o sujeito constrói algo significativo, ou seja, um produto, uma ideia ou um projeto. O Construcionismo papertiano propõe, portanto, uma pedagogia da ação e da autoria, na qual o uso da tecnologia não é o fim, mas o meio para expressar o pensamento, testar hipóteses e criar soluções originais. Esta perspectiva conecta-se diretamente à PDM, que vê no ato de construir, material ou simbolicamente, o espaço privilegiado da aprendizagem significativa e transformadora.
Em sintonia com as Inteligências Múltiplas de Howard Gardner, a PDM reconhece que aprender é um processo plural, em que diferentes formas de inteligência (lógica, linguística, espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalista, entre outras) se manifestam e interagem. A educação deve, portanto, oferecer múltiplas vias de acesso ao conhecimento, promovendo a valorização das potencialidades individuais e coletivas.
Na mesma linha, a Aprendizagem por Competências (APC), desenvolvida por Philippe Perrenoud, no campo educacional, reforça o princípio da mutabilidade ao enfatizar a capacidade de mobilizar saberes em contextos diversos e incertos. Aprender por competências significa desenvolver a aptidão de agir com discernimento e autonomia perante situações novas, exigindo pensamento crítico, flexibilidade cognitiva e consciência ética.
O Problem-Based Learning (PBL), introduzido por Howard Barrows, completa este quadro ao propor uma aprendizagem centrada na resolução de problemas reais e complexos. Esta metodologia é a expressão prática da PDM, pois estimula a investigação, o raciocínio colaborativo e a tomada de decisões fundamentadas, competências indispensáveis numa realidade em constante mudança.
Tanto a APC assim como a PBL são metodologias ativas centradas no aluno e convergem diretamente com a PDM, pois exigem adaptação contínua, reflexão crítica e capacidade de mobilizar saberes em contextos incertos. Ambas promovem autonomia, resolução de problemas reais e aprendizagem significativa, articulando pensar e agir num movimento permanente.
Assim, a PDM propõe um ecossistema educativo dinâmico, no qual o professor assume o papel de arquiteto das experiências e o aluno o de protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. O objetivo não é acumular informações, mas aprender a aprender, aprender a mudar e aprender a reconstruir-se em diálogo com o outro e com o meio.
Numa realidade marcada pela aceleração tecnológica e pela complexidade social, esta pedagogia oferece um caminho para conciliar inovação e humanismo, unindo o rigor da ciência, a criatividade da experiência e a ética da responsabilidade. Tal como afirmou John Dewey, a educação não é preparação para a vida, é a própria vida em processo de reconstrução contínua, e é exatamente essa reconstrução que a PDM pretende inspirar.
Mais do que uma metodologia, trata-se de um projeto epistemológico, que reconhece a mutabilidade como condição do ser humano e a educação como o espaço privilegiado onde se constrói o saber em meio às incertezas. Ao integrar as contribuições de Piaget, Papert, Gardner, Perrenoud, Barrows e outros pensadores da aprendizagem ativa, a PDM oferece um horizonte de transformação e crítica, onde o conhecimento é permanentemente recriado para responder aos desafios do tempo presente e do futuro.
No entanto, a sua implementação, assim como as outras metodologias, certamente, a PDM não está imune aos obstáculos estruturais, culturais e tecnológicos que podem comprometer o seu pleno desenvolvimento.
Entre os principais desafios, destacam-se:
(a) resistência institucional e cultural à mudança – muitos sistemas educativos permanecem presos a paradigmas centrados na transmissão, na avaliação padronizada e na hierarquia vertical entre professor e aluno. A transição para uma pedagogia adaptativa exige um processo de reeducação organizacional e de mudança cultural profunda, o que implica tempo, diálogo e compromisso político;
(b) formação docente insuficiente – a maioria dos professores foi formada em modelos conteudistas e pouco reflexivos. Implementar a PDM requer professores capazes de atuar como mediadores e designers de experiências de aprendizagem, o que demanda novos programas de formação inicial e continuada;
(c) infraestruturas tecnológicas desiguais – a integração da IA e das tecnologias digitais depende de condições materiais adequadas, como conectividade, equipamentos e suporte técnico. A desigualdade digital pode acentuar exclusões, contrariando o propósito inclusivo e emancipador da proposta;
(d) dificuldade de avaliação da aprendizagem adaptativa – medir o progresso em ambientes mutáveis requer métodos avaliativos qualitativos e processuais, ainda pouco dominados por professores e escolas. Portanto, persistir em métricas rígidas pode neutralizar a inovação pedagógica;
(e) o risco de dependência tecnológica – embora a IA seja uma aliada, o seu uso acrítico pode gerar automatização de decisões pedagógicas ou substituição da reflexão humana pela eficiência algorítmica. A tecnologia deve servir ao pensamento crítico, nunca substituí-lo.
Apesar destes obstáculos, sua implementação pode ser uma realidade. Logo, para uma efetiva implementação, os que desejarem adotar ou experimentar a PDM, algumas pistas orientadoras podem favorecer a implementação gradual do modelo, a saber:
(a) começar em pequena escala, testando o modelo em turmas-piloto, projetos interdisciplinares ou programas de extensão antes da expansão institucional;
(b) promover a capacitação professores de forma contínua, centrada na prática reflexiva, na aprendizagem baseada em problemas e na integração crítica da IA;
(c) adotar currículos flexíveis e interconectados, capazes de dialogar com o contexto social e com os interesses dos alunos;
(c) valorizar a aprendizagem colaborativa e a coautoria, criando ambientes em que professores e alunos aprendem mutuamente e constroem sentido partilhado;
(d) reformular os sistemas de avaliação, privilegiando portfólios, autoavaliações e registros reflexivos em vez de provas padronizadas;
(e) garantir acessibilidade e inclusão digital, reduzindo desigualdades tecnológicas e assegurando oportunidades equitativas de participação
(f) fomentar uma cultura institucional de inovação e integridade, na qual a mutabilidade seja compreendida não como instabilidade, mas como sinónimo de vitalidade e evolução.
Reforço aqui que, a PDM continua em construção e, coerentemente com o seu nome, permanecerá sempre em processo. O seu êxito dependerá menos de manuais ou receitas e mais da coragem ética e intelectual de professores, gestores e alunos para viverem a mudança como prática de liberdade.
Trata-se, enfim, de um convite à transformação permanente: da escola, da sociedade e de nós mesmos.